Archiving the Pandemic
CES (com)vida 2020
Pandemia, apocalipse e o século XXI
António Carvalho
Em “O discurso do método”, Descartes faz uma apologia da Razão. A certeza do “cogito ergo sum” só poderia ser abalada pela existência de um génio maligno e enganador que colocaria por terra o substrato lógico da razão humana, uma dúvida existencial que sempre abalou o Ocidente. “A História da Loucura”, de Michel Foucault, diz-nos que o nexo entre loucura e razão é uma das características da cultura ocidental; enquanto assistimos à emergência de mecanismos de governamentalidade – como a biopolítica e a disciplina – a modernidade também nos confronta com as obras de Sade, Goya, Bosch, Artaud e Burroughs. Como se, numa leitura Nietzschiana, o Apolíneo não conseguisse erradicar o clamor dionisíaco que subsiste na poesia, pintura, música e na estética da loucura. O homem árvore de Antonin Artaud, o corpo sem órgãos de pura vontade, é progressivamente substituído por uma deriva molecular de múltiplas intensidades que transforma a loucura numa expressão de gregaridades mais-do-que-humanas, um devir fragmentário em que, como escreveu Artaud, “nem o meu grito nem a minha febre me pertencem” (Artaud, 1991: 77).
A modernidade e industrialização assumiram-se como uma tentativa de colonizar uma série de ecossistemas, deles extraindo valor através de tecnologias de produção cada vez mais rápidas, gerando uma série de relações fetichistas com a matéria e promovendo estéticas de consumo insustentáveis, particularmente no Norte Global. Ao mesmo tempo, a marcha da razão sobre a natureza, expressão de uma hubris arrogante, partia do pressuposto que seria possível criar o que André Pickering (2014) designou como “ilhas de estabilidade”, isto é, dispositivos que “controlam” e “contêm” a agência não-humana de uma forma disciplinar, mas que, mais tarde ou mais cedo, soçobram perante a instabilidade e a imprevisibilidade, gerando incidentes como Chernobyl ou Fukushima.
Como James Scott mostrou em “Seeing like a State”, um dos apanágios da modernidade é o nexo entre poder, controlo e espacialização. A silvicultura científica, seguindo um modelo militar, arregimenta as diferentes espécies de plantas em espaços específicos para promover a extração de capital. O “Del rigor en la ciencia”, de Jorge Luís Borges, é uma interessante metáfora que traduz como a obsessão com mapas, planeamento e antecipação frequentemente se traduzem numa colonização do real pelos projetos da Razão e do Controlo. Progressivamente, estes híbridos – ou cyborgs, como diria Donna Haraway – mostram-nos que, apesar de permitirem uma otimização dos processos de extração – ou de Gestell, segundo Martin Heidegger (1977) – requerem um contínuo processo de manutenção devido à sua imprevisibilidade. Transformam-se numa nova camada do Real, interpenetrada com os ecossistemas, exigindo novas formas de cuidado – dado o seu desmantelamento não ser mais possível - como argumentou Bruno Latour, temos de cuidar das nossas tecnologias como cuidamos das nossas crianças.
O século XXI tem-nos confrontado com múltiplos epifenómenos que podem ser encarados enquanto expressões dos antípodas da Razão. O 11 de Setembro, mais do que o fim da história ou das ideologias, foi cooptado pelas elites neo-conservadoras norte-americanas enquanto um grito do barbarismo islâmico ao qual se devia responder através de intervenções militares no Afeganistão e no Iraque. A versão oficial do 11 de Setembro apresenta-nos uma modernidade sob ataque, as torres do Capital Global despedaçadas pelo grito desesperado de uma irracionalidade que emerge das cavernas de uma terra longínqua. Mas mais do que uma expressão do irracional, o 11 de Setembro – e o seu aproveitamento político – mostrou-nos que a modernidade não consegue justificar a sua marcha imperialista e extrativista – e aqui refiro-me especificamente aos combustíveis fósseis – sem a efervescência barbárica do sangue e da mortandade. Um sacrifício coletivo foi necessário para justificar a deriva expansionista, o sangue das massas canalizado de forma ritual para alimentar uma política externa responsável por centenas de milhares de mortos.
Com o avançar da marcha extrativista que tem vindo a ganhar velocidade desde a revolução industrial, no século XXI somos abalados por fenómenos meteorológicos extremos. A nossa fragilidade climática global é frequentemente interpretada como mote para a aceleração do controlo da estratosfera (através da geoengenharia), da criação de mercados de carbono ou de novas formas de consumo. Em suma, as soluções apontadas frequentemente geram mapas conceptuais que visam colonizar novos espaços – o individual, o estratosférico, o geopolítico – que multiplicam o ruído e potencialmente geram mais Golems. A utilização racional dos recursos planetários através de técnicas extrativistas transformou-se num fervor tecnológico que substitui os ecossistemas por paisagens áridas e desérticas, como as minas a céu aberto ou os terrenos, permanente submetidos à agricultura intensiva. Mordor. É irónico que uma das soluções propostas para a diminuição das emissões de carbono seja o recurso a veículos elétricos, com baterias de lítio, o que exigiria uma aceleração extrativista à qual vários movimentos ambientais se têm oposto.
A atual pandemia é mais uma expressão de como o espaço da modernidade está sujeito à disrupção. Por um lado, alguns rumores sugerem que o vírus pode ter escapado de um laboratório de alta segurança em Wuhan, o único local na China que armazenaria agentes patogénicos como o COVID-19. Por outro lado, a teoria acerca da origem do vírus no mercado de animais vivos de Wuhan indica que a captura de animais selvagens – e a proximidade artificial entre morcegos e pangolins enjaulados – sugere que a disrupção das distâncias naturais pode trazer sérias consequências para os humanos.
Para a mitigação da pandemia, regressamos à manipulação dos espaços. A quarentena, uma tecnologia social mobilizada para mitigar o contágio, exige distanciamento físico e um hiper-investimento em técnicas de domesticação e digitalização. Uma política disciplinar do espaço ao nível global (estimava-se, no início de Abril deste ano, que um terço da população mundial estaria sob quarentena) é recrutada para fazer face às certezas de hubris laboratoriais e comerciais.
Em 2017 um turista chileno, Maykool Coroseo Acuña, esteve 9 dias desaparecido na floresta Amazónica, depois de participar numa expedição na Bolívia. Surgiu na altura o rumor que Maykool não teria participado numa cerimónia Pachamama para pedir permissão para entrar na floresta, desrespeitando a Mãe Natureza. Todos os esforços para o encontrar foram em vão, e os guardas do parque acreditavam que ele teria sido levado pelo Duende, um espírito maligno que esconde as suas vítimas noutra dimensão. Só depois de várias cerimónias levadas a cabo por xamãs é que Maykool foi finalmente encontrado em segurança.
Não propondo a reificação de cosmologias ameríndias como uma metanarrativa universal para interpretar a crise ecológica e viral, é urgente termos consciência de que a disrupção dos espaços e das distâncias tem graves consequências. A hubris tecnocapitalista é incapaz de compreender, prever e controlar todas as “externalidades”, e com aceleração a que esta nos sujeita a fúria dos génios malignos – ou Duendes – deixa de estar contida ao nível local. Ela torna-se pandémica.
A crise atual indica que a aparente Razão, subjacente aos processos de governação e de exploração económica e tecnológica, sempre carregou consigo a semente da irracionalidade e do caos. Encontramos respostas de teor punitivo– por parte, por exemplo, do ministro das finanças da Holanda – que tentam externalizar o medo de colapso financeiro para o “Sul”, como se a incapacidade em conter a pandemia fosse uma forma de barbarismo que deve ser disciplinada através de mecanismos austeritários.
Registamos também uma corrida aos medicamentos, ao papel higiénico, a máscaras e a ventiladores como expressões de uma hubris imunológica que torna ainda mais brutal o sistema de comércio global, com países como os EUA a desviarem mercadorias que seriam para França, Alemanha e o Canadá. Ao mesmo tempo diminuem radicalmente as viagens transfronteiriças e existem grupos de cidadãos mexicanos – com os Sonorans for Health and Life – que exigem um controlo mais apertado de cidadãos americanos a entrar no México. Assistimos como que a um remake do filme “O dia depois de amanhã”, de Roland Emmerich (2004), em que há um êxodo de americanos que fogem das condições climáticas adversas no seu país. Devido a uma situação excecional, uma catástrofe climática, a situação geopolítica é revertida; da mesma forma, as liberdades individuais, apanágio da Modernidade Iluminista, são confinadas pela política da quarentena, associada a um Estado de Exceção que recorre a um léxico belicista e de mobilização total.
A multiplicação de narrativas apocalípticas ao longo das últimas décadas fez com que Frederic Jameson e Slavoj Zizek tenham afirmado que “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do Capitalismo”. De acordo com Mark Fisher, este realismo capitalista, a inevitabilidade de pensarmos e agirmos para além desta metanarrativa, indica que “o capitalismo traz com ele uma dessacralização maciça da cultura” (Fisher, 2009: 6). Não só da cultura humana mas de todos os ecossistemas que são colocados ao dispor da hubris tecnocapitalista, obliterando múltiplas ecologias de saberes e práticas e ontologias que não se resumem à visão de “caixa negra” associada às intervenções extrativistas, que a todo o custo tentam confinar as externalidades negativas da marcha de uma Razão cega e genocida.
O Caos, a Loucura, a Doença não são os antípodas de uma razão pura e abstrata. Não são uma sombra Jungiana à qual só acedemos através da introspeção e reflexão. São, sim, dimensões inalienáveis de processos económicos e tecnológicos que dessacralizaram os espaços e que agora recorrem a dispositivos de fascismo social, ao protecionismo geopolítico e ao pânico como um ritual coletivo de expiação.
Outros apocalipses emergentes – como as alterações climáticas – foram extremamente ricos na produção de alternativas socioeconómicas para fazer face ao sistema atual. Grupos como o movimento transição promovem, há mais de dez anos, uma localização dos sistemas de produção para promover processos de autonomia e resiliência ao nível comunitário. Encontramos atualmente várias formas de solidariedade ao nível local, como a disponibilidade de alguns jovens em fazerem compras para pessoas idosas, evitando que esses grupos de risco sejam expostos. Recentemente assistimos à proposta de implementação de um rendimento básico universal em Espanha para fazer face à catástrofe económica que se adivinha.
Os choques constantes a que diariamente assistimos podem ser facilmente mobilizados para justificar técnicas disciplinares cada vez mais eficazes e intrusivas, como a utilização dos telemóveis para aceder à localização de potenciais infetados. Por outro lado, temos assistido a uma incrível produção cultural e reflexão sobre a pandemia, o que indica que o recolhimento, ao invés de gerar uma docilização, está a potenciar a identificação de diversas alternativas para fazer face às contradições do sistema. A nossa esperança é que algumas destas soluções possam ser incorporadas de forma a gerar uma maior solidariedade social, internacional e inter-espécies, ao invés de cairmos numa nova guerra do terror, medo e obscurantismo.
António Carvalho, 7 de Abril de 2020
Bibliografia
Artaud, A (1991), O Pesa-Nervos. Lisboa, Hiena Editora.
Borges, J. L. (2002). Del rigor en la ciencia. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, (233), 12.
Descartes, R. (1979), Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; Cartas. São Paulo: Abril Cultural.
Fisher, M. (2009). Capitalist realism: Is there no alternative? John Hunt Publishing.
Foucault, Michel (1977), A História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo, Perspectiva.
Heidegger, M. (1977), The Question Concerning Technology and Other Essays.
New York: Harper & Row.
Latour, Bruno. "Love your monsters." Breakthrough Journal 2, no. 11 (2011): 21-28.
Pickering, A. (2014) Islands of Stability: Engaging Emergence from Cellular Automata to the Occupy Movement. Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, 1, 121-134.
Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.
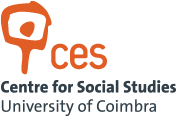

vida/images/28936_ac_foto-256x144_v2.jpg)